 Do senso comum fazem parte conhecimentos vulgares mas muito úteis na vida quotidiana (saber cozinhar, conhecer a cidade onde se vive, saber que no Verão há mais calor que na Primavera, etc.).
Do senso comum fazem parte conhecimentos vulgares mas muito úteis na vida quotidiana (saber cozinhar, conhecer a cidade onde se vive, saber que no Verão há mais calor que na Primavera, etc.).
Pode também incluir superstições, isto é, crenças falsas ou injustificadas (acreditar que o número 13 dá azar, acreditar que uma mulher durante o período menstrual não deve fazer bolos pois estes não ficarão bons, etc.).
Vejamos algumas das características distintivas entre senso comum e ciência.
As crenças que fazem parte do senso comum adquirem-se com base na experiência quotidiana das pessoas, na chamada experiência de vida (que se distingue da experiência científica por ser feita sem um planeamento rigoroso, sem método). Nalguns casos trata-se de experiências pessoais, noutros casos são experiências partilhadas pelos membros da comunidade – no decurso do processo de socialização. Em suma, é um conhecimento que se adquire sem estudos, sem investigações.
Por exemplo: para aprender onde fica a padaria mais próxima de casa ou para aprender a atar os sapatos não é preciso efectuar uma investigação metódica, basta a experiência de vida.
 Pelo contrário, a ciência implica investigações, estudos efectuados metodicamente.
Pelo contrário, a ciência implica investigações, estudos efectuados metodicamente.
Por exemplo: De outra forma, como se poderia descobrir a temperatura média de um planeta tão distante como Mercúrio? Como é que a simples experiência de vida podia permitir a descoberta de que a luz do Sol leva 8,33 minutos a chegar à Terra?
O senso comum é assistemático, na medida em que constitui um conjunto disperso e desorganizado de crenças (algumas constituem conhecimentos e outras não), não implicando por parte dos seus detentores um esforço de organização. Por isso, algumas das crenças podem ser contraditórias.
Por exemplo: as mesmas pessoas podem acreditar que “Quem espera desespera” e “Quem espera sempre alcança”.
Ciência é um saber sistemático na medida em constitui um conjunto organizado de conhecimentos, havendo da parte dos cientistas um esforço para que as diversas teorias se articulem entre si e sejam coerentes.
Por exemplo: Os historiadores ficariam preocupados se descobrissem que, nas suas análises de um fenómeno do passado como a batalha de Aljubarrota, havia afirmações sobre o relevo da zona incompatíveis com as informações fornecidas pela Geografia.
O senso comum é impreciso, na medida em que normalmente não se exprime de modo rigoroso e quantificado.
A ciência é um saber mais preciso que o senso comum. As diversas ciências, naturais ou sociais, recorrem sempre que possível à Matemática, na tentativa de apresentar resultados rigorosos. Mesmo nas investigações em que não é possível quantificar (a observação psicológica de uma certa pessoa, por exemplo) existe essa procura do rigor.
Por exemplo: É de conhecimento geral que no Norte de Portugal chove mais do que no Sul. O conhecimento científico desse fenómeno é muito mais exacto: no mês de Janeiro de 2003 a precipitação em Faro situou-se entre os 20 e os 40 mm, enquanto no mesmo período no Porto situou-se entre os 350 e os 400 mm (de acordo com o Instituto de Meteorologia).
O senso comum é acrítico. Acrítico significa não reflectido, não examinado. É compreensível que assim seja, pois trata-se de crenças cuja aprendizagem é informal: aprende-se à medida que se vai vivendo e tendo experiências, aprende-se vendo, ouvindo e imitando os outros. Muitas vezes essa aprendizagem é inconsciente: as pessoas não têm noção de que estão a aprender, mas vão interiorizando tradições, costumes, saberes práticos, etc. Tanto podem aprender crenças verdadeiras como crenças falsas e injustificadas (superstições).
Por exemplo: Algumas crianças portuguesas, ao observarem muitas vezes os pais e outros adultos deitarem lixo para o chão, aprendem a fazer o mesmo e interiorizam a ideia de que esse comportamento é correcto. Outras crianças portuguesas – talvez em menor número – ao observarem muitas vezes os pais e outros adultos deitarem o lixo para o caixote aprendem a fazer o mesmo e interiorizam a ideia de que esse comportamento é correcto. Na maior parte dos casos, tanto umas como outras realizam essas aprendizagens sem reflectir, sem discutir: limitam-se a imitar. Ou seja: aprendem acriticamente.
A ciência não pode ser acrítica como o senso comum. Pelo contrário, implica uma atitude crítica por parte dos cientistas. Ou seja: para fazer ciência é preciso reflectir, pensar pela própria cabeça, e ter uma preocupação permanente com a fundamentação das ideias. Os cientistas devem ter essa atitude crítica relativamente às suas próprias ideias e relativamente às ideias dos outros.
Por exemplo: um cientista que queira publicar um artigo científico numa revista tem de submetê-lo a um processo de avaliação que costuma ser chamado “refereeing”: o artigo tem de ser lido primeiro por especialistas da área; o nome destes não é divulgado e estes também não sabem quem é o autor do artigo, para que a crítica possa ser mais livre e imparcial.
(Na primeira imagem: “Velha fritando ovos” de Diego Velasquez.)

















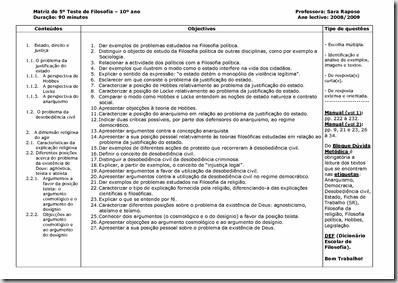
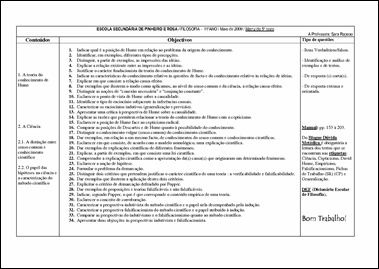





![boyfriend matemática[4] boyfriend matemática[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcyijlOhN4hZgetwUsn1epg2Vt_lUtC8zsiWKC8AGKiW0cyCdBoHrHC68bYs5VyIvZ3QQJyJJjudmoXlkNNhbJuDYPO0kMyxz1SPNQqEw95lcCBlJm_unRzg_pd7hxTZrjbK7LqiOm6u0/?imgmax=800)


![criança esfomeada mamando_thumb[8] criança esfomeada mamando_thumb[8]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO2uKZfUiV2CZMb7_zzCfzW2sqdBMV4Rpd-8uhPMU5MhKcH8DZBjOBzs8MAF_Dc1Nj8wpvv_GDjuEnmzU-N0x5scL0u20SF9vATPMmBgVqtOMYf0Kr4VF90LQysqFubdI4c202J7_T0gzB/?imgmax=800)









